Quando “Triste Fim de Policarpo Quaresma” chegou às livrarias, em 1915, o Rio que aparece nas páginas já estava mapeado pelo autor.
Afonso Henriques de Lima Barreto (1881–1922) escrevia a partir do que via no caminho diário entre Todos os Santos e o centro: trens cheios, anúncios em plataformas, conversas rápidas que entregam hierarquias sociais. Essa coleta de vozes virou método: observar em deslocamento para fugir do ponto de vista dos salões.
Morador da Zona Norte e funcionário público desde 1903, Lima trabalhou como amanuense na Secretaria da Guerra. O expediente lhe deu ritmo: documentos, carimbos e despachos forneceram matéria e cadência.
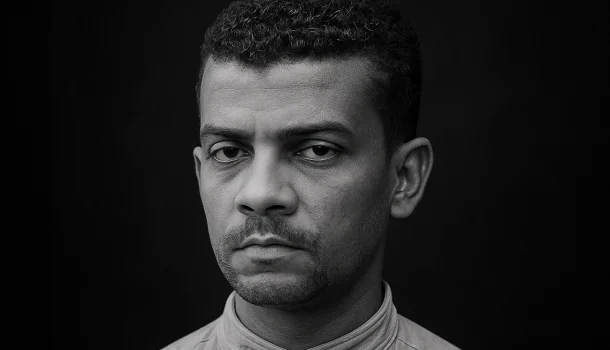
Leia também: Polícia de SP prende homem que ameaçava Felca, e faz nova descoberta chocante sobre tema da ‘adultização’
Sua prosa nasce daí — direta, irônica, colada à fala comum e sem truques de vitrine — e, por isso, muitos leitores a reconhecem como precursora de soluções que depois serão atribuídas ao modernismo, embora ele nunca tenha pedido selo de escola literária.
Ainda antes de Policarpo, Lima atacou o funcionamento da imprensa em “Recordações do Escrivão Isaías Caminha” (1909). O romance expôs favoritismos de redação e a filtragem social que barrava certas presenças.
O preço foi alto: resenhas enviesadas, portas fechadas nos cadernos culturais e três tentativas frustradas de ingresso na Academia Brasileira de Letras. A recusa não foi questão de estilo; foi recado de classe e cor.
Em “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, a sátira mira a máquina estatal que engole promessas. O protagonista acredita num país que cumpra o que diz e encontra repartições que trituram gente com formalidades impecáveis.

Já em “Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá” (1919), a amizade vira abrigo: um servidor veterano guia o narrador por salas, arquivos e bibliotecas, num aprendizado afetivo que ilumina os pequenos gestos do poder. Entre os dois livros, aparece o que seria a marca de Lima: ternura e raiva na mesma frase.
A trajetória biográfica ficou marcada por duas internações psiquiátricas, em 1914 e 1919, no então Hospício Nacional de Alienados e em outro pavilhão do sistema manicomial do Rio. Desse período surgem “Diário do Hospício” e “O Cemitério dos Vivos” — textos que não posam de confissão e tampouco exploram sofrimento como espetáculo.
Ele registra rotinas, medicações, vigilâncias e humilhações com cuidado documental, devolvendo aos companheiros de enfermaria nome e história. O resultado é um estudo de instituição feito por quem a viveu por dentro.
A recepção em vida foi estreita, mas o arquivo não se perdeu. Décadas depois, o trabalho de pesquisadores — com destaque para Francisco de Assis Barbosa — recompôs cronologias e manuscritos.
Em 2017, a leitura biográfica de Lilia Moritz Schwarcz recolocou Lima no pós-Abolição e mostrou como as barreiras que o atingiram continuavam operando no país. Em vez de consagração eufórica, ficou a lição: reler Lima é aprender a identificar mecanismos de exclusão que preferem o silêncio ao debate.
A morte veio cedo: 1º de novembro de 1922, por colapso cardíaco, numa casa modesta em Todos os Santos. Sobre a mesa, cadernos e livros em uso. O que ficou não é um repertório de frases de efeito, mas uma ética de olhar: atenção aos detalhes do cotidiano, recusa do brilho fácil e compromisso de dar nome ao que fere.
Para quem pega trem, enfrenta fila, assina requerimento e volta para casa com tinta no dedo, essa literatura ensina a reconhecer a própria experiência sem pedir licença.
Compartilhe o post com seus amigos! 😉


